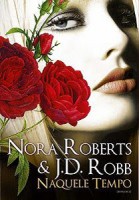Naquele Tempo
Primeiro Capítulo
«O assomo heróico do trovão seguiu o estranho homenzinho até dentro da loja. Olhou em redor com ar de quem pede desculpa, como se aquele grosseiro barulho fosse responsabilidade sua e não da natureza, e meteu uma embalagem debaixo do braço para poder fechar um guarda‑chuva às riscas pretas e brancas.
Tanto o homem como o guarda‑chuva pingavam, com ar de luto, para cima do quadrado de tapete do lado de dentro da porta, enquanto a chuva fria da Primavera fustigava as ruas e passeios do outro lado. Ficou onde estava, como se não tivesse a certeza de ser bem‑vindo.
Laine virou a cabeça e lançou‑lhe um sorriso que só tinha afabilidade e um convite simpático. Era um ar a que os amigos chamariam o sorriso educado da lojista.
Bem, que diabo, era uma lojista educada — e naquele momento esse cognome estava a ser duramente posto à prova.
Se soubesse que a chuva lhe traria clientes para a loja em vez de os manter afastados, não teria dado o dia a Jenny. Não que se importasse com a afluência. Uma mulher não abria uma loja se não quisesse freguesia, fosse qual fosse o estado do tempo. E uma mulher não abria uma loja na Santa Terrinha, EUA, sem perceber que passaria tanto tempo a conversar, a ouvir e a arbitrar discussões, assim como a conseguir vendas.
E não fazia mal, pensou Laine, era bom, mas se Jenny estivesse a trabalhar em vez de passar o dia a pintar as unhas dos pés e a ver telenovelas, teria sido Jenny a atender as Gémeas.
Darla Price Davis e Carla Price Davis tinham o cabelo pintado da mesma cor louro-acinzentado. Usavam gabardinas azuis idênticas e bolsas em forma de crescente a condizer. Terminavam as frases uma da outra e
comunicavam numa espécie de código que incluía muito franzir de sobrancelhas, franzir de lábios, encolher de ombros e acenar de cabeças.
O que poderia ser giro em crianças de oito anos era simplesmente estranho em mulheres de quarenta e oito.
Não obstante, Laine lembrou‑se de que nunca iam à Naquele Tempo sem largar uma nota. Poderiam demorar horas a largá‑la, mas por fim lá haveria uma venda. Pouca coisa animava o coração de Laine como o toque da caixa registadora.
Hoje estavam à caça de uma prenda de noivado para a sobrinha, e nem a chuva persistente nem a trovoada as tinha impedido. Também não impedira o jovem casal ensopado que — diziam — fizera um desvio em Angel’s Gap por capricho, a caminho de Washington.
Nem o homenzinho molhado com o guarda‑chuva às riscas que parecia, aos olhos de Laine, algo agitado e perdido.
Por isso, abriu um sorriso ainda mais caloroso. — Vou já atendê‑lo — disse, e voltou às Gémeas.
— Porque não continuam a procurar? — sugeriu Laine. — Pensem à vontade. Assim que eu…
A mão de Darla fechou‑se no seu pulso, e Laine soube que não podia fugir.
— Temos de decidir. A Carrie tem mais ou menos a sua idade, querida. Que desejaria você para prenda de noivado?
Laine não precisava de transcrever o código para ver que era uma farpa não muito subtil. Afinal tinha vinte e oito anos e nunca casara. Não estava noiva. Nem saía com ninguém em especial de momento. Era um crime antinatura, segundo as Gémeas Price.
— Sabe — atalhou Carla — a Carrie conheceu o Paul na ceia de esparguete do Kawanian no Outono passado. Você devia sair mais, Laine.
— Pois devia — concordou Laine com um sorriso encantador. Se quisesse andar com um contabilista careca e divorciado com sinusite. — Sei que a Carrie vai adorar seja o que for que escolherem. Mas talvez a prenda de noivado das tias deva ser mais personalizada do que castiçais. São lindos, mas o conjunto de toucador é tão feminino. — Escolheu a escova de prata no conjunto que estavam a ver. — Imagino que outra noiva a tenha usado na noite de núpcias.
— Mais personalizada — começou Darla. — Mais…
— Ameninado. Sim! Podíamos comprar os castiçais para…
— Prenda de casamento. Mas se calhar devíamos ver as jóias antes de comprarmos o conjunto de toucador. Qualquer coisa com pérolas? Qualquer coisa…
— Antiga que ela pudesse usar no dia do casamento. Reserve os castiçais e o conjunto, querida. Vamos ver as jóias antes de decidirmos qualquer coisa.
A conversa parecia uma bola de ténis em serviço e saía de duas bocas idênticas pintadas em tom coral. Laine congratulou‑se pelo jeito e a atenção que tinha enquanto acompanhava quem dizia o quê.
— Boa ideia. — Laine levantou os antigos e belíssimos castiçais Dresden. Não se podia dizer que as Gémeas não tivessem bom gosto, nem que se acanhavam de arejar os cartões de crédito.
Começou a levar as compras para o balcão quando o homenzinho lhe apareceu ao caminho.
Entreolharam‑se, e os olhos dele eram azuis pálidos e deslavados, avermelhados com a falta de sono ou com muito álcool ou alergias. Laine decidiu‑se pela falta de sono, dado que também tinham papos de cansaço. O cabelo estava uma massa grisalha em desalinho com a chuva. Trazia um sobretudo caro da Burberry e um guarda‑chuva de três dólares. Presumiu que tivesse feito a barba à pressa nessa manhã, pois deixara um bocado grisalho junto ao maxilar.
— Laine.
Disse o nome dela com uma urgência e intimidade que lhe transformaram o sorriso num ar de confusão educada.
— Sim? Desculpe, mas eu conheço‑o?
— Não se recorda de mim. — O corpo dele parecia querer inclinar‑se. — Já foi há muito tempo, mas pensei…
— Menina! — chamou a mulher que ia a caminho de Washington. — Mandam por correio?
— Sim, senhora. — Ouvia as Gémeas numa das suas discussões em código sobre brincos e pregadeiras, e sentiu o impulso de comprar no casal de Washington. O homenzinho olhava‑a com uma intimidade esperançosa que lhe causava arrepios.
— Desculpe, estou mesmo atarefada esta manhã. — Ladeou o balcão para pousar os castiçais. A intimidade, recordou‑se, fazia parte do ritmo das terrinhas. O homem talvez já lá tivesse estado, e era ela que não conseguia lembrar-se dele. — Posso ajudá‑lo nalguma coisa específica, ou prefere ver o que temos exposto?
— Preciso que me ajude. Não há tempo. — Sacou de um cartão e pô‑lo na mão dela. — Ligue‑me para este número, assim que puder.
— Senhor… — Olhou para o cartão e leu o nome dele. — Peterson, não compreendo. Pretende vender alguma coisa?
— Não, não. — A gargalhada dele soou histérica e Laine agradeceu mentalmente ter mais clientes na loja. — Já não. Explicarei tudo, mas agora não. — Olhou em volta. — Aqui não. Não devia ter cá vindo. Ligue para o número.
Fechou a mão sobre a dela de uma maneira que obrigou Laine a reprimir o instinto de se libertar. — Prometa‑me.
Cheirava a chuva e a sabonete e a… Brut, percebeu ela. E o aftershave fez‑lhe lembrar qualquer coisa, mas nem soube o quê. Os dedos dele apertaram‑lhe a mão. — Prometa‑me — repetiu num sussurro áspero, e ela só viu um homem estranho de casaco molhado.
— Claro.
Viu‑o ir para a porta, abrir o guarda‑chuva reles. E soltar um suspiro de alívio quando saltitou para a chuva. Bizarro foi a única palavra em que ela pensou, mas estudou o cartão por um momento.
Tinha o nome impresso, Jasper R. Peterson, mas o número de telefone estava escrito à mão e sublinhado duas vezes.
Meteu o cartão no bolso e preparou‑se para dar ao casal viajante um empurrãozinho amistoso, quando se ouviu um carro a travar no piso molhado e gritos alarmados, e ela girou nos calcanhares. Houve mais um
barulho horrível, um som cavo que ela nunca esqueceria. Tal como nunca esqueceria ter visto o estranho homenzinho no seu casaco à moda ir contra a montra da loja.
Saiu porta fora, para a chuva incessante. Ouviam‑se passos e algures por ali o ruído de metal contra metal e vidros a partirem‑se.
— Sr. Peterson — Laine agarrou‑lhe na mão, e debruçou‑se numa tentativa vã de lhe cobrir o rosto ensanguentado da chuva. — Não se mexa. Chamem uma ambulância! — gritou e tirou o casaco para o tapar o melhor que pôde.
— Vi‑o. Vi‑o. Não devia ter vindo. Laine.
— Vem aí ajuda.
— Deixou‑o para ti. Ele queria que eu to desse.
— Está tudo bem. — Afastou o cabelo que lhe pingava para os olhos e aceitou o guarda‑chuva que alguém lhe estendia. Colocou‑o sobre ele e inclinou‑se mais, pois ele puxava‑lhe debilmente pela mão.
— Tem cuidado. Lamento muito. Tem cuidado.
— Tenho. Claro que tenho. Mas não se mexa, poupe as forças, Sr. Peterson. Vem aí ajuda.
— Tu não te lembras. — O sangue saía‑lhe da boca e ele sorria. — A pequena Lainie. — Respirou fundo e tossiu sangue. Ela ouviu as sirenes e ele começou a cantarolar numa voz fina e ofegante.
— Vou fechar cuidados e pesares — cantarolou e depois arquejou. — Adeus, oh melro.
Ela olhava‑lhe para a cara pisada e sentiu alfinetadas na pele que já estava gelada. As recordações, tão longínquas, apareceram. — Tio Willy? Oh, meu Deus.
— Gostava desse. Fiz asneira — disse ele sem fôlego. — Desculpa, achei que seria seguro. Não devia ter vindo.
— Não compreendo. — As lágrimas queimavam‑lhe na garganta, corriam‑lhe pelas faces. Ele estava a morrer. Estava a morrer porque ela não o tinha reconhecido, e o mandara para a chuva. — Tenho muita pena.
Tenho tanta pena.
— Ele sabe onde estás agora. — Revirou os olhos. — Esconde o canito.
— O quê? — debruçou‑se mais até os lábios dela quase tocarem nos dele. — O quê? — mas a mão que ela tinha nas suas estava morta.
Os paramédicos afastaram‑na. Ouviu‑lhes o diálogo curto e conciso — gíria médica que ela se habituara a ver na televisão, que quase podia recitar de cor. Mas aquilo era verdade. O sangue que se diluía na chuva era verdadeiro.
Ouviu uma mulher soluçar e dizer repetidamente em voz aguda: — Ele meteu‑se mesmo à minha frente. Não consegui travar a tempo. Ele correu para a frente do carro. Ele está bem? Ele está bem? Ele está bem?
Não, queria dizer Laine. Não está nada bem.
— Venha para dentro, querida. — Darla pôs o braço nos ombros de Laine e puxou‑a para trás. — Está ensopada. Já não pode fazer mais nada aqui.
— Devia fazer alguma coisa. — Olhou para o guarda‑chuva partido, as riscas alegres todas sujas agora, e pingos de sangue.
Devia tê‑lo mandado sentar à lareira. Ter‑lhe dado uma bebida quente e deixá‑lo aquecer‑se e secar‑se em frente ao lume. Assim estaria vivo. A contar‑lhe histórias e piadas tontas.
Mas não o reconhecera, e ele estava a morrer.
Não podia ir para dentro, sair da chuva, e deixá‑lo sozinho com estranhos. Mas nada havia a fazer excepto olhar, impotente, enquanto os paramédicos lutavam em vão para salvar a vida ao homem que outrora se rira
das gracinhas dela e lhe cantara cantigas tolas. Morreu em frente à loja que ela trabalhara tanto para ter, e deixara à porta as recordações todas de que ela pensara ter fugido.
Era uma mulher de negócios, um pilar da comunidade, e uma fraude. Nas traseiras da loja, serviu duas canecas de café e soube que ia mentir a um homem a quem considerava um amigo. E negar qualquer conhecimento de um ente outrora querido.
Tentou recompor‑se, passou as mãos pela massa húmida de cabelo ruivo, o qual usava normalmente num rabo‑de‑cavalo que lhe chegava aos ombros. Estava pálida, e a chuva levara‑lhe a maquilhagem, aplicada sempre com tanto cuidado, pelo que se viam as sardas no nariz fino e nas faces. Os olhos, um azul brilhante como o de um viking, estavam vítreos com o choque e a dor. A boca, ligeiramente grande de mais para o rosto angular que ela tinha, ameaçava tremer.
Observou o seu reflexo no espelho com moldura dourada que tinha na parede do escritório. E viu aquilo que era. Bem, faria o que fosse preciso para sobreviver. Willy certamente compreenderia isso. Faz o que vier primeiro, disse de si para si, e depois pensa no resto.
Respirou fundo, expirou e depois pegou no café. Tinha as mãos quase firmes quando entrou na loja principal e se preparou para prestar falso testemunho ao chefe da polícia de Angel’s Gap.
— Desculpa ter demorado tanto tempo — disse ela com as canecas na mão, enquanto se dirigia a Vince Burger, perto da pequena lareira.
Este era um homem grande como um urso, com uma melena de cabelo louro-esbranquiçado quase em pé, como se surpreendido por dar consigo em cima da cara larga e descontraída. Os olhos, de um azul mortiço e deslavado com ruguinhas, estavam cheios de compaixão.
Era marido de Jenny, e viera a ser como um irmão para Laine. Porém, ela agora pensava nele como polícia, e em como tudo o que ela conquistara estava em jogo.
— Porque não te sentas, Laine? Foi um choque muito grande.
— Sinto‑me como que dormente. — Era bem verdade, não tinha de mentir a respeito de tudo, mas foi bebericar o café e ver a chuva, para não ter de encontrar aqueles olhos compassivos. — Agradeço que tenhas vindo tu ouvir o meu depoimento, Vince. Sei que tens que fazer.
— Achei que ficarias mais à vontade.
É melhor mentir a um amigo do que a um estranho, pensou ela amargamente. — Não sei que te diga. Não vi o acidente propriamente dito. Ouvi… ouvi os travões a chiar, gritos, um barulho horrível, e depois vi… —
Não fechou os olhos. Se os fechasse, voltaria a ver tudo. — Vi‑o embater na janela, como se o tivessem atirado. Saí a correr, fiquei com ele até chegarem os paramédicos. Foram rápidos. Pareceram horas, mas foram só minutos.
— Ele esteve aqui dentro antes do acidente.
Agora ela fechava os olhos, e preparou‑se para o que tivesse que fazer para se proteger. — Sim. Tive vários fregueses esta manhã, o que mostra que nunca devia dar folga a Jenny. As Gémeas estiveram cá, e um casal que passou por aqui a caminho de Washington. Estava ocupada quando ele entrou, e deixou‑se ficar a ver um bocado.
— A forasteira disse achar que vocês se conheciam.
— A sério? — Laine virou‑se e afivelou um ar espantado, como um artista esperto saberia fazer num retrato. Foi até uma das duas cadeiras de braços que pusera em frente à lareira e sentou‑se. — Não sei porquê.
— Impressão — disse Vince e encolheu os ombros. Sempre consciente do seu tamanho, sentou‑se lenta e cuidadosamente, na outra cadeira. — Diz que ele te pegou na mão.
— Bem, demos um aperto de mão, e ele deu‑me um cartão. — Laine tirou‑o do bolso, e obrigou‑se a olhar para a cara de Vince. O lume crepitava, caloroso, e embora sentisse o calor na pele, tinha frio. Muito frio. — Disse que queria falar comigo quando eu não estivesse tão ocupada. Que tinha qualquer coisa para vender. Acontece com frequência — acrescentou, dando o cartão a Vince. — E é assim que eu mantenho a loja aberta.
— Pois. — Ele meteu o cartão no bolso da camisa. — Alguma coisa em especial em relação a ele?
— Só que tinha um belo sobretudo e um guarda‑chuva fracote — e que não parecia do género de deambular por terrinhas. Tinha um ar urbano.
— Tu também, aqui há uns anos. Aliás… — Estreitou os olhos, estendeu a mão e passou o polegar pela face dela. — Ainda tens algum.
Ela riu‑se, porque era o que ele queria. — Quem me dera poder ajudar mais, Vince. Que coisa tão horrorosa.
— Sei dizer‑te que temos quatro depoimentos diferentes. Todos dizem que o tipo saiu da loja a correr e se meteu à frente do carro. Como se estivesse assustado ou coisa assim. Pareceu‑te assustado, Laine?
— Não lhe dei atenção. O facto é que, Vince, praticamente o mandei embora quando percebi que não queria comprar nada. Tinha fregueses. — Abanou a cabeça quando a voz lhe fraquejou. — Parece uma falta de chá agora.
A mão que Vince pôs nas suas para a confortar fê‑la sentir‑se vil. — Não sabias o que ia acontecer. Foste a primeira a chegar a ele.
— Ele estava mesmo à porta. — Teve que beber um grande gole de café para lavar a mágoa que sentia na garganta. — Quase no degrau.
— E falou contigo.
— Sim. — Tornou a pegar no café. — Não fez grande sentido. Pediu desculpa umas duas vezes. Não me parece que soubesse quem eu era nem o que tinha acontecido. Acho que delirava. Chegaram os paramédicos e… e ele ficou‑se. Que vais fazer agora? Quero dizer, ele não é daqui. O número de telefone é de Nova Iorque. Fico a pensar se ele estava só de passagem, para onde iria, de onde seria.
— Vamos tentar saber isso tudo para darmos parte aos familiares mais próximos. — Vince levantou‑se e pôs‑lhe uma mão no ombro. — Não vou dizer‑te que esqueças tudo, Laine. Não vais conseguir, durante algum tempo. Vou dizer‑te sim que fizeste o que pudeste. Não se pode fazer mais do que isso.
— Obrigada. Vou fechar por hoje. Quero ir para casa.
— Boa ideia. Queres boleia?
— Não, obrigada. — Foi a culpa, mais do que o afecto, que a fizeram pôr‑se em bicos de pés para lhe dar um beijo na face. — Diz à Jenny que a vejo amanhã.
O nome dele, pelo menos o nome que ela sabia, era Willy Young. Provavelmente William, pensou Laine, enquanto o carro subia o caminho de cascalho. Não era tio dela a sério — tanto quanto ela sabia — mas sim honorário. Um que tinha sempre alcaçuz vermelho na algibeira para uma rapariguinha.
Ela não o via há quase vinte anos, e nessa altura ele tinha o cabelo castanho e a cara mais redonda. E sempre tivera uma passada viva.
Não admirava que não o tivesse reconhecido no homenzinho curvado e nervoso que lhe entrara na loja.
Como é que ele tinha dado com ela? E porquê?
Dado que ele era, tanto quanto ela sabia, o melhor amigo do pai, partiu do princípio de que ele era — tal como o pai — ladrão, vigarista, alguém que cometia pequenos delitos. Não era o tipo de conhecimentos que uma mulher de negócios respeitável queria ter.
E por que diabo se havia de sentir pequenina e culpada?
Travou e ficou a olhar para a casinha bonita no montinho bonito, através dos limpa pára‑brisas.
Adorava o sítio. Era dela. A casa dela. Era uma casa de dois pisos grande de mais para uma mulher sozinha, mas ela adorava poder deambular por ela. Estimava cada momento que passara a decorar meticulosamente cada dependência a seu gosto. E só a seu gosto.
Sabendo, como sabia, que nunca, nunca, teria de fazer as malas num instante ao som de Adeus, oh melro e fugir.
Adorava poder ocupar‑se com o quintal, o jardim, podar arbustos, cortar a relva, arrancar ervas daninhas. Coisas simples. Coisas simples e normais para uma mulher que passara a primeira parte da vida a fazer pouca coisa normal.
Tinha direito, não tinha? De ser Laine Tavish e tudo o que isso significava? A loja, a terrinha, a casa, os amigos, a vida. Tinha direito a ser a mulher que criara para si.
Não teria ajudado Willy em nada se tivesse dito a verdade a Vince. Não teria mudado nada para ele, e poderia ter mudado tudo para ela. Vince não tardaria a descobrir que o homem na morgue da comarca não era Jasper R. Peterson mas sim William Young, e os pseudónimos que pudesse haver.
Teria cadastro. Ela sabia que Willy tinha cumprido pena pelo menos uma vez junto com o pai. — Irmãos de armas — dissera o pai, e ela ainda podia ouvir o riso dele, aberto e sonante.
Como ficava furiosa com aquilo, saiu do carro e bateu com a porta. Correu para casa, à procura das chaves.
Acalmou‑se, quase de imediato, quando a porta se fechou atrás de si e a casa a rodeou. A calma, os aromas a óleo de citronela que as mãos dela haviam passado na madeira, e a doçura subtil das flores de Primavera que trouxera do jardim apaziguaram‑lhe os nervos em franja.
Pôs as chaves no prato típico japonês, um raku, que tinha na mesinha da entrada, tirou o telemóvel da mala e pô‑lo a carregar. Descalçou‑se, tirou o casaco, pendurou‑o no poste da escada e pousou a mala no primeiro degrau.
Seguiu a rotina que tinha e dirigiu-se à cozinha. Normalmente teria posto a chaleira ao lume e visto o correio que tirara da caixa ao fundo do caminho enquanto a água aquecia.
Mas hoje serviu‑se de um grande copo de vinho.
E bebeu‑o ao pé do lava‑louça, a olhar pela janela para o quintal.
Tinha tido um quintal — por duas vezes — em pequena. Lembrava‑se de um no… Nebraska? Iowa? Que importava? pensou, e bebeu mais um gole de vinho. Gostava do quintal porque tinha uma árvore grande e velha logo no meio, e ele pendurara um pneu velho numa corda grande e grossa.
E empurrava‑a tão alto que ela achava estar a voar.
Não tinha a certeza de quanto tempo tinham ficado nem recordava nada da casa. A maioria da infância era uma memória desfocada de lugares e caras, viagens de carro, a azáfama de fazer as malas. E ele, o pai, com o riso sonante e as mãos grandes, o sorriso irresistível e as promessas desatentas.
Ela passara a primeira década da sua vida desesperadamente enamorada pelo homem, e o resto da vida a fazer o que podia para esquecer que ele existira.
Se ele estivesse em apuros, outra vez, ela não tinha nada a ver com isso.
Já não era a pequena Laine do Jack O’Hara. Era Laine Tavish, cidadã respeitável.
Olhou para a garrafa de vinho e serviu‑se com um encolher de ombros. Uma mulher crescida podia embebedar‑se na sua própria cozinha, por amor de Deus, especialmente se tivesse visto um fantasma do passado a morrer a seus pés.
Com o copo na mão, foi até à porta das traseiras atender os latidos esperançosos do lado de fora.
Entrou como um tiro de canhão — um tiro de canhão peludo e de orelhas grandes. Fixou as patas na barriga dela, e o focinho comprido tocou‑lhe na cara, antes de a língua lhe cobrir as faces de um afecto molhado e desesperado.
— Está bem, está bem! Também estou contente por te ver. — Por mais que se sentisse em baixo, as boas‑vindas de Henry, aquele cão espantoso, nunca deixavam de a animar.
Salvara‑o do canil, pelo menos era o que gostava de pensar. Quando fora ao canil dois anos antes, tinha sido para trazer um cachorrinho. Sempre quisera uma bolinha de pêlo para treinar desde pequena.
Mas quando o vira… — grande, desajeitado, espantosamente feio naquele pêlo cor de lama. Um cruzamento, pensou ela, entre urso e papa‑formigas. E rendera‑se no momento em que ele olhara para ela pela porta da jaula.
Toda a gente merece uma oportunidade, pensara, e assim salvara Henry do canil. Ele nunca lhe dera razões para se arrepender. A sua adoração era absoluta, tanto que ele continuava a olhá‑la assim, mesmo quando ela lhe enchia a malga de comida.
— Hora de comer, rapaz.
Ao sinal, Henry mergulhou a cabeça na malga com toda a seriedade.
Ela também devia comer. Qualquer coisa para ensopar o vinho, mas não lhe apetecia. Com tanto vinho no sangue, não conseguiria pensar, inquirir, preocupar‑se.
Deixou a porta de dentro aberta e foi ver as trancas de fora. Podia alguém entrar pela porta do cão, se quisesse, mas Henry daria sinal.
Ladrava sempre que um carro subia o caminho, e embora castigasse o intruso com baba e excitação — depois de deixar de tremer de medo — ela nunca tivera qualquer surpresa. E nunca, nos quatro anos em Angel’s Gap, tivera problemas em casa, ou na loja.
Até hoje, lembrou‑se.
Decidiu trancar a porta do cão e deixar Henry sair pela frente para a volta nocturna.
Pensou em telefonar à mãe, mas para quê? A mãe tinha uma vida boa e respeitável agora, com um homem bom e respeitável. Conquistara‑a. De que valia irromper nessa bela vida e dizer: «Olha, encontrei o Tio Willy
hoje, e um Jeep Cherokee também».
Levou o vinho com ela para o andar de cima. Faria um jantarinho, tomaria um banho quente, deitar‑se‑ia cedo.
Encerraria os acontecimentos daquele dia.
Deixou‑o para ti, dissera ele, lembrou‑se. Provavelmente a delirar. Mas se ele tivesse deixado alguma coisa, ela não queria nada.
Já tinha tudo o que queria.
Max Gannon deu ao médico uma nota de vinte para dar uma olhadela ao cadáver. Na experiência de Max, a efígie de Andrew Jackson ultrapassava a burocracia mais depressa do que explicações e papelada e mais camadas de burocracia.
Soubera das más notícias sobre Willy pelo funcionário do motel Red Roof Inn, que era até onde tinha seguido o vigarista. A polícia já lá tinha estado, mas Max investira a primeira nota de vinte do dia no número e na chave do quarto.
A polícia ainda não levara a roupa dele, nem fizera grande busca, pelo ar do quarto. Porque fariam, em caso de acidente de viação? Mas assim que identificassem Willy, voltariam para ver melhor.
Willy não desfizera as malas, reparou Max, a escrutinar o quarto. As peúgas e a roupa interior e duas camisas ainda estavam impecavelmente dobradas na mala Louis Vuitton. Willy era arrumadinho e adorava coisas de marca.
Pendurara um fato no roupeiro. Cinzento, não cruzado, Hugo Boss. Um par de sapatos Ferragamo, junto com as formas, alinhados no chão.
Max vasculhou os bolsos e apalpou o forro. Tirou as formas de dentro dos sapatos e meteu os dedos compridos até à biqueira.
Na casa de banho, vasculhou o conjunto de toilette da Dior. Levantou a tampa do autoclismo, agachou‑se para ver por detrás, e debaixo do lavatório.
Abriu as gavetas, remexeu na mala, virou o colchão.
Levou menos de uma hora a revistar o quarto e a ver que Willy não deixara nada de importante. Quando de lá saiu, estava tudo tão arrumado e com um ar tão intocado como quando entrara.
Pensou em dar ao empregado outra de vinte para não contar à polícia, mas depois achou que lhe poderia dar ideias.
Entrou para o Porsche, pôs a tocar Springsteen e dirigiu‑se à morgue da comarca para verificar que a pista mais forte que tinha estava em gelo.
— Estúpido. Caraças, Willy, achei que eras mais esperto do que isto.
Max resfolegou a olhar para a cara de Willy. Por que diabo correste? E que poderia haver de tão importante numa terriola do Maryland?
O quê, pensou Max, ou quem?
Dado que Willy já não lhe podia dizer, Max meteu‑se no carro e foi até Angel’s Gap retomar a pista multimilionária que tinha.
Quem queria saber o que se passava num sítio pequeno, ia aonde o povo se reunia. De dia, café e comida. De noite, álcool.
Depois de decidir que ficaria em Angel’s Gap um dia ou dois, Max registou‑se naquilo que se chamava The Historic Wayfarer’s Inn e tomou um duche para limpar as primeiras doze horas do dia. Era tarde para ir bater à porta número dois.
Comeu um hambúrguer muito bom do serviço de quartos, sentado ao computador portátil, a ver a página da Câmara de Comércio de Angel’s Gap. A secção Vida Nocturna dava‑lhe várias opções de bares, discotecas e
cafés. Queria um bar de bairro, o tipo de sítio onde os conterrâneos bebessem uma cerveja ao fim do dia e falassem uns dos outros.
Escolheu três que podiam encaixar, procurou indicações para as moradas e acabou o hambúrguer enquanto estudava uma impressão do mapa de Angel’s Gap.
Era um sítio jeitoso, pensou ele, aninhado nas montanhas. Vistas de morrer, imensas opções recreativas para entusiastas de desporto ou tarados por campismo. Ritmo lento o suficiente para quem quisesse livrar‑se da cidade, mas com bolsas de cultura cheias de classe — e a uma distância razoável das principais áreas metropolitanas, para quem quisesse passar o fim‑de‑semana nas montanhas do Maryland.
A Câmara de Comércio gabava as oportunidades de caça, pesca, caminhada e outras actividades ao ar livre — e nenhuma atraía o citadino que Max era.
Se quisesse ver ursos e veados no seu habitat natural, escolheria o canal Discovery.
Mesmo assim, o sítio tinha encanto, com as ruas íngremes e edifícios antigos de sólida tijoleira vermelha. O rio Potomac dividia a cidade em duas, e as pontes que o atravessavam eram típicas. Muitos pináculos de igrejas, alguns com toques de cobre que enverdecera com o tempo e o clima. Onde estava podia ouvir o silvo de um comboio que se alongava e ecoava a assinalar a passagem.
Não tinha dúvidas de que fosse de encher o olho no Outono, quando as árvores se enchiam de cores, e bonito como um bilhete‑postal quando a neve cobrisse tudo. Mas nada explicava por que razão um vigarista como Willy Young se deixara ceifar por um carro desportivo na Market Street.
Para achar essa peça do quebra‑cabeças, Max fechou o portátil, agarrou no blusão preferido e foi correr as capelinhas.»